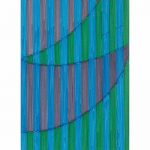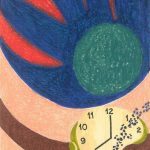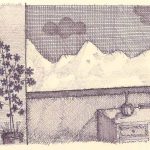Luiz e Diva
O bonde da Floresta
Eles se conheceram na Rua da Bahia, em Belo Horizonte. Saindo do trabalho com Juvenal, Diva notou o rapaz moreno, de olhos vivos e testa larga conversando com Jorge Werneck, seu ex-colega na escola da Da Alzira Lobo. Bom motivo para parar e bater um papo. Logo soube que o rapaz se chamava Luiz e era estudante de engenharia. Não era de hoje que ele acompanhava à distância aquela moça sorridente, de pele muito clara e cabelos curtos, vestida com elegante simplicidade e que chamava atenção pela suavidade de sua beleza.
Foi Jorge quem sugeriu o encontro ocasional na Rua da Bahia, para romper de vez com a timidez do amigo. A conversa já ia animada, quando veio a sugestão inevitável. Que tal um sorvete no Bar do Ponto? Eu acompanho vocês até lá, mas não posso ficar, disse Juvenal; a Ilda está me esperando. Jorge ainda ficou um pouco, mas logo se afastou, discretamente, juntando-se ao grupo de colegas que proseava ao lado.
Luiz e Diva emendaram uma conversa longa, como quem não quer perder o momento. Ela contou que havia se formado há pouco tempo na Escola Normal e que, enquanto não arranjava emprego como professora, tinha pegado um bico com Juvenal na Loteria Mineira para ajudar na contabilidade. Foi lá, onde era contador, que ele conheceu sua irmã, Ilda – paixão fulminante – e estão casados há pouco. Fazer lançamentos no livro caixa não era propriamente o que Diva queria da vida. Mas, em vista das dificuldades financeiras que sua família enfrentava, doze filhos e a saúde debilitada do pai, os filhos tinham que se virar muito cedo, mesmo as moças que, em outras circunstâncias estariam esperando marido e ajudando nas tarefas de casa. E você? Pelo jeito não é mineiro. Não, disse Luiz, eu nasci no Maranhão, mas, muito novo ainda, fui morar no Rio de Janeiro com minha família. Depois que o meu pai morreu, mudamos para Belo Horizonte, minha mãe, eu e meu irmão Syr. Quando terminar a faculdade, se der sorte, arranjo um emprego por aqui mesmo. Ao barulho dos bondes e alarido da rapaziada, o papo continuou por algum tempo, os dois ignorando o que se passava em volta.
Bem, a conversa está boa, mas a essa hora mamãe está me esperando já aflita. Moro numa chácara, ali na Rua Sapucaí, na Floresta. Com essas palavras, Diva, ao mesmo tempo pesarosa e feliz, despediu-se, atravessou a Avenida Afonso Pena e foi tomar o bonde, logo ali na frente do Bar do Ponto. Luiz estava eufórico e nem se lembrava mais da prova de cálculo da manhã seguinte. Seguiu noite adentro, no Bar do Ponto, festejando e comentando com Jorge e os outros colegas o sucesso do “encontro ocasional”.
O namoro continuou nos dias, nas semanas e nos meses seguintes, cumprindo o mesmo ritual. Encontravam-se sempre no final da tarde, Diva descendo a Rua da Bahia, depois do trabalho, e Luiz esperando por ela em frente ao Bar do Ponto. Juntos, pegavam o bonde para a Floresta. Nada de descer na Avenida do Contorno, ponto mais próximo da Chácara, pois a conversa era longa para um percurso tão curto. Seguiam até o final da linha, na Rua Pouso Alegre e voltavam. Diva descia na Contorno com Sapucaí e Luiz continuava até a Avenida Afonso Pena, onde tomava um outro bonde, saltando em frente ao Colégio Arnaldo. Dali era um pulo até a Bernardo Monteiro 921, onde ele morava. Ambos guardavam uma distância prudente da casa do outro, intimidade que seria excessiva na falta de um compromisso mais firme. E, cada vez mais foram se encontrando um no outro. Em 1927, quando começaram o namoro, Diva tinha 21 anos e Luiz 23.
O lugar desse encontro era Belo Horizonte e já havia se passado quase três décadas desde que a cidade fora fundada, embora fosse ainda um centro jovem e vibrante.
Belo Horizonte nos anos 20
Os anos vinte marcam uma época romântica da história da capital de Minas. Entre passeios de bonde e sessões de cinema, entre conversas nos cafés e o footing, a vida seguia alegre. Belo Horizonte era a “Cidade-Jardim”, onde o verde das árvores saltava das ruas e invadia as casas, tomando quintais e pomares.
Nesse período, a capital viu nascer a geração de escritores modernistas que mais tarde iria se destacar no cenário nacional. Carlos Drumond de Andrade, Cyro dos Anjos, Luís Vaz, Alberto Campos, Pedro Nava, Emílio Moura, Milton Campos, João Alphonsus, Abgar Renault e Belmiro Braga, reunidos no Bar do Ponto, no Trianon ou na Confeitaria Estrela, eram rapazes inquietos que mudaram o panorama da literatura brasileira.
No campo das artes e da cultura, a cidade experimentou um grande desenvolvimento. Enquanto o Teatro Municipal vivia anos de glória, novas salas de cinema eram inauguradas como os cines Pathê, Glória, Odeon e Avenida. Em 1926, o maestro Francisco Nunes fundou o Conservatório Mineiro de Música. No ano seguinte, era criada a Universidade de Minas Gerais. Em 1929, fundou-se Automóvel Clube, ponto de encontro da elite belo-horizontina.
Como um reflexo do fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, a indústria de Belo Horizonte ganhou impulso na década de vinte. Os serviços urbanos foram ampliados para atender a uma população sempre crescente. Parecia, finalmente, que a modernidade tinha chegado à Capital. Foram inauguradas grandes obras, como o viaduto de Santa Tereza, a nova Matriz da Boa Viagem e o Mercado Municipal. Os automóveis circulando pelas ruas tornaram-se comuns, exigindo a criação de um código de trânsito e de auto-escolas. Surgiram também os auto-ônibus, complementando os serviços de bondes.
Como prova do desenvolvimento e do prestígio, Belo Horizonte recebeu a visita dos reis da Bélgica, em 1920. Na ocasião, toda a Praça da Liberdade foi reformada, adquirindo o seu aspecto atual. Em 1922, para comemorar os cem anos da independência do Brasil, a Praça 12 de Outubro passou a se chamar Praça Sete de Setembro e ganhou o famoso “Pirulito”.[1]
Texto adaptado de http://portalpbh.pbh.gov.br. Localizar no “Mapa do Site”: História/Coletâneas de História/História de Belo Horizonte/Anos 20 e 30 – A poesia toma conta da cidade. Pesquisa feita em 18/11/2008.
Para namorar, bem melhor do que o bonde da Floresta, sempre apinhado de gente na saída do expediente, eram as festas no clube Belo Horizonte ou na casa do Dr. Hugo Werneck, pai do amigo Jorge. Nos intervalos da dança havia sempre uma varanda ou uma sombra no jardim, sob o céu estrelado, onde se podia roubar um beijo e sentir o arrepio de uma carícia.
O noivado
Depois de dois anos de namoro, Luiz ainda não estava formado, mas achou que era hora de começar vida nova. O ponto de partida era o noivado e isso tinha lá os seus problemas. Embora nenhum dos dois tivesse entrado na casa um do outro, as famílias já sabiam do namoro e até mesmo desejavam uma aproximação maior. Mas, daí a enfrentar DaNazinha e “seu” Francisco, pais de Diva, ambos muito austeros, ele até mesmo ríspido, havia uma distância razoável. Juvenal, já bem entrosado na família, foi convidado para pedir a mão de Diva. E lá se foram, no dia marcado, muito enfatiotados, Da Belinha, Syr e Luiz, à chácara dos Guimarães.
A entrada da chácara era pelo alto da Rua Sapucaí, de onde se avistava, ao fundo da ribanceira, os trilhos e a estação da estrada de ferro. No centro do terreno, cercado de arame farpado coberto de maricá, ficava a casa, simples e ampla, de dois pavimentos. Chegava-se ao andar de cima por uma escada rústica de cimento, sem corrimão; nele ficavam a sala, a cozinha e os quartos do casal e das filhas. Os filhos e os agregados, gente conhecida de Sabará, ocupavam o andar de baixo. À noitinha, quando chegaram, não dava para ver a horta e o pomar, que Luiz só iria conhecer dias mais tarde. O Rubin, um pedreiro espanhol que trabalhara para o seu Francisco, havia plantado uma macieira junto à porta da cozinha que, desafiando o clima quente da cidade, dava frutos todos os anos. Para sua surpresa, Luiz descobriu também que cada filha tinha uma árvore: a de Diva era uma mangueira.
A iluminação era precária e havia pouco tempo que substituíra os lampiões a querosene. Não havia banheiro,As necessidades eram feitas numa privada de madeira fora da casa e o banho era tomado com bacia, nos próprios quartos, onde ficavam também os enxergões[1], com colchões de palha, dispostos um ao lado do outro. Na cozinha, chamava a atenção um grande fogão de rabo, à lenha, sempre acesso, com o bule de café fumegante.
Foram recebidos por Diva e Juvenal, acompanhados de DaNazinha. Seu Francisco, já muito doente, esperava na sala para evitar sereno. Aos poucos chegaram os outros moradores da casa: as filhas – Olga, Ara, Ilda, Dulce, Dora e Zulma – os filhos, Ninico, Tenente, Elton, Nhonhô e Elminho e os agregados, que à época do noivado eram Otávio Sepúlveda, Martiniano, Adauto e Zezinho. Para alivio de todos,a visita foi breve e chegou ao fim sem maiores percalços, apenas envolta num clima que estava longe de ser descontraído, talvez pelo desconhecimento mútuo, talvez pela presença de gente refinada, como Da Belinha e seus filhos. O licor de jabuticaba, servido com olho de sogra, bala de coco e biscoitinhos de nata, foi muito elogiado e ajudou a quebrar um pouco a formalidade do ambiente.
Durante o noivado, Luiz podia frequentar a casa, mas com hora marcada para se retirar. Os encontros no bonde da Floresta continuaram. Saídas à noite só acompanhados e os “paus de cabeleira” mais comuns eram Dora e Luiz Souza Lima, amigo de confiança da família. Já idosa, Diva se lembrava com saudade das festas dessa época em casa de suas primas, filhas de Altina e Aurélio Lobo.
Até o casamento, Da Belinha continuou a ser quase uma estranha para Diva, que apenas uma ou outra vez entrava na casa da Bernardo Monteiro, recém construída, sempre em ocasiões formais, como uma festa de aniversário ou durante a visita anual de Nossa Senhora. A verdade é que, duas personalidades fortes, uma não simpatizava com a outra e essa dificuldade viria a se acentuar mais tarde, depois do casamento.
Da Belinha, cujo nome de casada era Izabel Palhano Cadaval, nasceu em Codó, no Maranhão, onde seu pai era um grande fazendeiro, produtor de algodão e dono de muitos escravos. Terminada a guerra civil americana, os Estados Unidos voltaram a ser grandes exportadores de algodão e a agricultura algodoeira do Nordeste brasileiro não suportou a concorrência, entrando em decadência. A família de Da Belinha abandonou a fazenda Mata Virgem e radicou-se principalmente em São Luiz e no Rio de Janeiro. Izabel conheceu seu futuro marido, o então Capitão de Fragata Luiz de Azevedo Cadaval, natural da cidade de Rio Grande (RS), quando estava visitando uma prima em Belém. Casaram-se e moraram em várias cidades, fixando-se no Rio de Janeiro por volta de 1910, época em que Luiz Azevedo foi nomeado Contra-Almirante da Marinha. Seu filho, também batizado Luiz, nasceu no Maranhão, mas ainda pequeno mudou-se com a família para o Rio, onde eles moravam numa mansão da Rua Conde do Bonfim, na Tijuca.
Quando o marido morreu de um acidente em 1912, Izabel tinha 36 anos e dois filhos pequenos, Syr, de 14 anos, e Luiz, de apenas 7 anos. No meio de uma crise de depressão, viajou para Belo Horizonte a fim de se encontrar com sua irmã mais velha, Luiza, que estava passando uma temporada ali. Gostou tanto da cidade que para lá se mudou com os dois filhos por volta de 1916-1917.
A pensão de Almirante que o marido deixou para Da Belinha dava a ela uma condição financeira excepcional na Belo Horizonte do início do século, uma cidade de funcionários públicos e operários. Tanto é assim que, depois de curta temporada numa mansão na Rua da Bahia, Da Belinha alugou a casa do então Presidente da República, Rodrigues Alves, na Rua Aimorés, quando ele se mudou para o Rio de Janeiro. O passo seguinte foi construir seu próprio bangalô na esquina da Av. Bernardo Monteiro com Padre Rolim.
Com Da Belinha e os filhos, vieram morar em Belo Horizonte duas irmãs, Delfina e Tertuliana (que todos chamavam Tetê). Delfina, uma mulher delicada e sensível, era três anos mais velha do que Belinha e cedo ficou com problemas de audição e locomoção, quase não saindo de seu quarto. Tetê, uma mulata forte e sorridente, já de idade avançada, era tratada como empregada da casa, embora fosse filha natural do pai de Belinha com uma escrava da fazenda, condição que nem sequer podia ser mencionada na família. Viveu até os 105 anos.
Uma renda confortável, o convívio com família de militares de alta patente, uma criadagem sempre à disposição e o ir-e-vir cosmopolita deram à Belinha ares de aristocracia. Junte-se a isso uma personalidade forte e tem-se uma mulher sempre ativa que quer impor os seus padrões a todos que a rodeiam, custe o que custar. Hábitos requintados de correspondência, culinária elaborada, prática religiosa, elegância no vestuário e nos modos de se comportar em público eram cultivados, tanto quanto o desprezo pelos serviçais e pessoas humildes. Isso não combinava, decisivamente, com Diva.
O casamento de Luiz e Diva foi muito simples, prenunciando o estilo que levariam a vida inteira. A cerimônia íntima reuniu um pequeno grupo de parentes e amigos na chácara onde Diva morava. Seu Francisco já estava muito doente e sem condições de arcar com as despesas de uma festa e, por isso, não houve convites. Alguns dias depois, os recém-casados colocaram no correio uma mensagem nos seguintes termos: “Diva Guimarães Cadaval e Luiz Palhano Cadaval participam seu casamento. 15-4-929. Av. Bernardo Monteiro, 921. Bello Horizonte”. Da Belinha não gostou, pois queria ver os nomes das famílias impressos no comunicado. Não houve acordo.
O endereço foi o da primeira residência dos dois, a própria casa de Da Belinha, que tinha quatro quartos além de um apartamento anexo, dando para a Rua Padre Rolim. Não era espaço suficiente para abrigar duas personalidades fortes, como ficou claro depois do nascimento de Maria Neuza e de Paulo Nery.
Pé na estrada
Quando Luiz se formou, em dezembro de 1931, Maria Neuza já estava com sete meses e Diva grávida de Paulo, que nasceria em meados do ano seguinte. Em plena crise econômica, não estava fácil conseguir emprego como engenheiro. O que estava mais à mão era trabalhar para o Governo na construção de estradas e ferrovias no interior do estado. Ele não hesitou e, literalmente, pôs o pé na estrada com toda disposição. Diva ia atrás com os meninos pequenos, morando em condições precárias nas cidades próximas às obras. Luiz ora ficava nos canteiros de obras, ora morava na cidade, dependendo das possibilidades. Moraram em tantos lugares que a memória não conseguiu guardar todos: São José da Barra, Itapecerica, Lavras, Formiga, Caxambu, Poços de Caldas …
Para Diva, o mais difícil não era o desconforto, ao qual estava acostumada na chácara da Floresta. Ela sentia mesmo era a falta do convívio com a mãe e as irmãs, tão importante para quem, inexperiente, entre 20 e 30 anos, tinha que lidar com duas crianças pequenas. Às vezes havia uma surpresa.
Nessa época, Nhonhô, irmão mais novo de Diva, trabalhava com Luiz na construção de uma estrada perto de São José da Barra. Diva, com Paulo e Maria Neuza ainda bebês, vivia na cidade próxima, quase um povoado, sem notícias de casa e isolada de tudo e de todos. O telefone do posto mais estragava do que funcionava. A vontade era de chorar e sair correndo com as crianças para encontrar uma alma amiga, não importa quem fosse. Ah, se eu soubesse dirigir, pensava ela, pegava o Ford bigode de Luiz e me mandava para Belo Horizonte. Era uma sexta feira e ela saiu a perambular, junto da casa, enquanto os meninos dormiam. Mas, onde estava o carro? Será que roubaram? Quando Luiz chegar vai ficar uma fera, foi o primeiro pensamento que lhe veio à cabeça. Não deu outra: voltando do canteiro de obras, já ao anoitecer, Luiz ficou branco ao receber a notícia do sumiço do carro e correu para falar com o delegado, que a essa hora já comemorava o fim de semana na venda do Tonico. Entre “vamos ver” e “fique calmo”, nada foi feito e os dois, Diva e Luiz, passaram um fim de semana de cão. Se ao menos Nhonhô estivesse por aqui para ajudar na busca … Mas não, ele havia pedido uma licença e, na sexta à tarde fora para Belo Horizonte passar o fim de semana. Feliz dele, na flor dos 20 anos.
Domingo, uma tarde modorrenta, Luiz sintoniza o rádio na sala quando escuta buzinadas insistentes e o barulho inconfundível do Fordinho. Não tinha dúvidas, era ele. Diva deixou Paulo no berço, veio correndo e os dois foram para a rua, com o coração acelerado, para receber o bem-vindo. Eis que surge, no meio do poeirão, Nhonhô descendo do carro, todo feliz, e ao seu lado, DaNazinha, com ares de cúmplice. A satisfação de ver a mãe abafou em Diva a vontade de espinafrar Nhonhô que havia roubado o carro para fazer farra em Belo Horizonte. Luiz não ousou soltar a sua raiva e Nhonhô recolheu-se, estrategicamente, à venda do “seu” Tonico para comemorar o fim do domingo.
O vigor da juventude ainda estava lá, mas, depois de alguns anos de vida nômade, o bom senso prevaleceu e Diva resolveu instalar-se na casa de Da Belinha e esperar o retorno de Luiz nas folgas do trabalho. Foi muito bem recebida de início. Entretanto, nora e sogra repetiram a saga milenar e, pouco a pouco começou a faltar espaço para o mando. O conflito se instalou. A gota d´água foi a insinuação, mil vezes repetida por Da Belinha, de que Diva deveria entregar Maria Neuza para ela criar. Não fora assim com ela mesma, no Codó, criada pela irmã mais velha depois que a mãe adoeceu? Diva engolia em seco e deixava passar. Até que um dia, sem mesmo falar com Luiz, alugou uma casa ali perto, na Rua dos Otoni, e mudou-se para lá. Luiz, já cansado com as rinhas, concordou de imediato, mas começou a tomar providências para construir a sua própria casa. Com a ajuda da mãe, que não conseguindo aninhar o casal preferiu a proximidade, comprou um terreno na Rua Padre Rolim. A construção da casa terminou em 1933 e, com alguns acréscimos, continuou lá 75 anos depois, cercada de arranha-céus.
Os tempos eram difíceis e, para construir a casa, Luiz tomou um empréstimo de 20.000 contos de reis na Caixa Econômica.
De início era uma casa térrea com três quartos, duas salas conjugadas, banheiro e cozinha. Na frente e do lado esquerdo uma faixa de jardim com canteiros e piso de tijolo. O murinho, como era chamado, marcava o limite da rua e, mais do que proteção, como a grade alta que o substituiu anos depois, era o lugar preferido das crianças para observar, sentadas, o que se passava na rua.Três degraus de escada davam acesso ao alpendre e à porta da sala. O revestimento das paredes externas era cinzento, de pó de pedra que refletia a luz do sol nos fragmentos de mica, produzindo um efeito mágico que encantava os olhos. Do lado direito ficava o portão de acesso a um corredor externo para o qual se projetavam as janelas dos quartos. No fundo, uma faixa estreita de quintal e o barracão com o tanque ao lado, área de serviço e de moradia das empregadas.
Com o aumento da família, a casa ganharia, mais tarde, dois outros quartos e uma copa, mediando o espaço entre a sala, a cozinha e o banheiro.
Entre a casa de Da Belinha, de esquina, e a de Luiz e Diva espremia-se um pequeno apartamento que, por muitos anos, foi alugado pelo Dr. Juvenal, colega de serviço de Luiz, e sua esposa, Da. Dina, que não tinham filhos. A entrada era por um pátio ladrilhado que dava frente para a Rua Padre Rolim, mas havia também uma porta, sempre trancada, que comunicava o apartamento com o alpendre da casa de Da. Belinha. As crianças circulavam entre esses espaços como se fossem a sua própria casa, sem noção de propriedade ou privacidade, coisas que só diziam respeito aos adultos.
Hoje, a rua é um espaço agressivo que todos evitam, na medida do possível. Nem sempre foi assim. As redondezas da casa de Luiz e Diva eram, por excelência, um espaço de convivência e socialização de crianças, jovens e idosos. Todos se conheciam. Além do Dr. Juvenal e Da. Dina, a Da. Izaura e seu Levy Leste, Da. Iá e Da. Elza, Dr. Gastão Behring e Da. Mariana, Dr. João Vasconcellos e Eunice, Dr. Ismael Faria, Da. Liça, Cel. Bragança, Heitor Menin, Mario Coutinho e Cecília, Da. Milota, família d´Ávila, os Tenuta, Da. Benvinda de Carvalho, Zé Santeiro e Lourdes, as “compridas” e tantos outros. Nos sobrados da frente ficavam duas repúblicas, onde moravam estudantes de medicina, – a Amor e Cana e a Canaã – e a casa da Da. Anita, que alugava quartos e dava pensão para estudantes.
De onde pra onde caminha o sol na Padre Rolim? Pedro Nava[2], que morou ali com sua mãe nos tempos em que Luiz ainda era adolescente, responde de forma belíssima num dos seus livros de memórias: “Esse logradouro corta o bairro e a cidade na direção leste oeste, desaguando, lado oriente, na Avenida do Contorno e lado ocidente, na Avenida Mantiqueira. Essa posição lhe dá sol dia inteiro e ela fica cor de ouro branco pela manhã, de ouro fino à luz zênite, de ouro vermelho à tarde e de ouro preto à noite. Se tem lua – então fica de prata. Sua luminosidade contrasta com o tom acobreado e crepuscular da Avenida Bernardo Monteiro ainda cheia dos velhos fícus de outrora. São estes e a terra da alameda central do logradouro – que dão ao lugar seus coloridos especiais. Duas cores só – o verde e o marrom – mas ambos com todas as nuanças graduadas pelas estações, pelas noites claras ou de breu, pelos dias limpos ou de chuva, pela hora do nascente, do meio-dia, do poente.”[3]
Com o passar do tempo, Luiz conseguiu um emprego na Secretaria de Viação e Obras Públicas, que acumulou, até quase o final da vida, com outro na SIT, empresa de construção, onde cuidava de instalações elétricas e hidráulicas. Os filhos foram nascendo mais ou menos a cada três anos. Depois de Maria Neuza (que todos chamavam Maninha) e de Paulo, vieram Carlos Alberto, Maria Silvia, Maurício, Maria Lúcia e Daisy. Todos receberam nomes duplos, embora o tempo tenha mantido no esquecimento o Nery de Paulo, o Eduardo de Maurício e o Maria de Daisy. O Hospital São Lucas, com uma das melhores maternidades de Belo Horizonte, ficava logo ali, a poucos metros da Padre Rolim, mas Diva teve todos os sete filhos em casa.
Aos poucos, a situação econômica de Luiz foi melhorando e o empréstimo da Caixa Econômica pôde ser pago. Mas, a verdade é que, com o aumento da família, o dinheiro não chegava até o fim do mês. Em alguns momentos, a ajuda de Syr, engenheiro da Rede[4] que ganhava bem e não tinha filhos, foi providencial, completada pelos mimos de Da Belinha.
Com todas as dificuldades, Luiz sempre teve um carro velho. Paulo sabe contar histórias deliciosas de alguns deles, acontecidas nos anos 50[5]. Antes e depois, outros carros fizeram parte da família, sem que a memória os tivesse alcançado.
.
O programa de domingo era sempre o mesmo. De manhã, Diva ia à missa na capela do Colégio Arnaldo com os meninos, quase sempre acompanhada de Da. Belinha, Titia[6] e Tetê. Luiz, ateu confesso, se recusava a ouvir os sermões dos padres alemães que, segundo ele, eram “cacetes demais”, cheios de promessas de inferno para os pecadores da paróquia. O almoço era em casa, não faltando o macarrão com frango assado, de praxe aos domingos. À tardinha, uma visita, na maioria das vezes à Da. Nazinha, mãe de Diva, que, depois que o marido falecera, morava com Olga na casa da Rua Silva Ortiz.
Uma vez ou outra, Luiz passeava com os meninos no Parque[7], onde as diversões preferidas dos meninos eram dar farelo de pão para os patos que nadavam no pequeno lago circular e brincar nas gangorras e escorregadores.
A CASA DA PAMPULHA
Com essa rotina domingueira, a família só poderia receber a boa nova com alegria. Numa segunda feira, à hora do jantar, Luiz contou que havia comprado um terreno na Pampulha, isto é, vocês entendem…, perto, mas não ao lado da represa da Pampulha. A ideia veio do Schmidt[8], seu colega na Secretaria de Viação, que também comprou um terreno na mesma área e já se preparava para construir um chalé. Você entende, Diva, agora já são quatro meninos e precisamos arranjar uma diversão melhor para eles nos fins de semana; além do mais, já acabamos de pagar o empréstimo da Caixa Econômica e o terreno é bem barato. Mas, não fica muito longe? perguntou Diva. Bom, não é como daqui até ali na esquina, mas acho que dá para ir com facilidade. Para chegar lá basta pegar o bonde até o final da Antônio Carlos, descer a pé para o Aeroporto, atravessar a pista e pronto. O ônibus é uma opção melhor, pára na frente da estação de passageiros do Aeroporto, mas custa mais caro. As obras que o Juscelino está fazendo na Pampulha certamente vão valorizar – e muito – os terrenos por lá.
Negócio feito, agora era tomar posse do terreno e, quando der, construir uma casinha pequena, que possa crescer com a família. A essa altura a família já incluía, além de Maninha e Paulo, já grandinhos, Nonô e Naná[9]. Quando Maurício nasceu, a casa da Pampulha já estava pronta e havia algumas plantas espalhadas pelo terreno arenoso, sinais da vitória sempre precária contra a secura do solo e as saúvas, abundantes e famintas. A água vinha de uma cisterna escavada junto à cozinha. No início a água era retirada com balde, preso por uma corda à manivela, que, por sua vez, era apoiada num cavalete de madeira; mais tarde, como diz Paulo, veio o avanço da tecnologia e foi colocada uma bomba manual.
O terreno de 2.000 m2 era retangular e, no centro dele, foi construída a casa com uma sala grande, dois quartos, banheiro e, no fundo, uma cozinha com fogão a lenha. A iluminação era por lampião à gás com camisinha, que produzia uma luz muito forte.
Além de Luiz, Diva e os filhos, a casa da Pampulha era frequentada pelos parentes e pelos amigos de cada um, entre eles Tenente, Nhonhô, os primos, filhos de Ara e Octávio, Murilo Menin, Mario Lott e muitos outros.
Chegar até lá não era tão fácil como Luiz imaginava. Do alto da Avenida Antônio Carlos, final da linha de bonde, aquele bando de meninos e adultos, carregados de sacolas, balaios e pacotes, comandados por Luiz e Diva, descia o morro até a estação de passageiros do Aeroporto. Dali era preciso cruzar a pista de grama, onde raramente descia um avião, e seguir por um caminho de terra até o ribeirão[10]. A travessia era feita por uma pinguela[11] muito estreita que amedrontava até os mais experimentados. Titia era uma das que mais temiam a pinguela. Para atravessá-la, fechava os olhos e ia, passo a passo, conduzida por um dos sobrinhos. Alguns anos mais tarde, Daisy também empacava na pinguela, indo em frente a duras penas, com a meninada rindo a valer. Depois era só subir a meia encosta para chegar à casa.
O que se fazia lá? É Paulo quem explica. “Apesar de a terra ser muito ruim, só areia e cascalho, vivíamos plantando qualquer coisa, desde milho e mandioca a flores; de um dos lados do terreno plantei algumas mudas de eucalipto junto à cerca de arame farpado. Muitos fins de semana foram dedicados a tapar as bocas de formigueiros e introduzir fumaça de enxofre em uma delas com a ajuda de um fole para matar as formigas. Havia também muito pernilongo, mas os meninos não podiam reclamar disso. Ganhei de Nhonhô um radiogalena[12]; eu e Papai passávamos horas tentando sintonizar alguma estação com aquela geringonça que usava a cerca de arame farpado como antena. Quando conseguíamos, todo mundo vinha correndo, guardando silêncio absoluto para ouvir alguma coisa. Eu e o Mario Lott passávamos muito tempo no alto do morro, observando a pista do aeroporto e a Base Aérea, na esperança de ver um avião chegando ou saindo, o que era raro; se aparecia algum, era motivo de muita alegria e assunto para o resto do fim de semana. Certa vez alguém descobriu nas imediações da casa muitos pés de goiaba vermelha, repletos de frutos maduros. Logo catamos uma enormidade e Mamãe organizou a fabricação da goiabada. Voltamos para casa no domingo carregados de doce.”
Passear na casa da Pampulha era um “programa de índio”, mas sempre muito apreciado. Divertia-se à beça!
Com os filhos crescendo, mudando e casando, ninguém mais ia à casa da Pampulha. Diva contratou um caseiro para manter as coisas em ordem, mas, em vez disso, ele vendeu e cedeu partes do terreno a outras pessoas que construíram ali os seus barracos. Nos anos 70 a área se transformou numa grande favela e a casa da Pampulha virou apenas lembrança.
A VIDA CONTINUA
E assim, o tempo foi passando e a família crescendo. Os que eram meninos se tornaram adultos e fizeram suas próprias vidas, mas isso é outra história. Diva engavetou o sonho de ser professora e dedicou seu tempo a espalhar amor e firmeza para toda uma geração de pessoas, filhos, netos, bisnetos, parentes e amigos. Morreu aos 101 anos, em fevereiro de 2008. Luiz foi o esteio. Discreto e sorridente,era o espelho em que todos se miravam, silenciosamente. Parece ter sido feliz, apesar de uma longa doença na velhice. Morreu em Belo Horizonte aos 89 anos.
[1] Espécie de estrado de madeira com base trançada em arame.
[2]Pedro Nava,nascido em 1903, é reconhecido como um dos melhores memorialistas do Brasil. Formou-se em medicina pela Universidade de Minas Gerais em 1927.Sua obra mais conhecida, “Baú de Ossos”, foi publicada em 1972, seguindo-se “Balão cativo”, “Chão de ferro”, “Beira mar”, “Galodas trevas” e “O Círio perfeito”. Morreu no Rio de Janeiro em 1984.
[3] Pedro Nava, Galo-das-Trevas, Ateliê Editorial, São Paulo, 2003, p. 311 e 312.
[4] Rede Mineira de Viação, companhia de estradas de ferro do Estado existente à época.
[5] Ver “Os carros de Luiz” mais adiante.
[6] “Titia”: assim era chamada Delfina de Carvalho Palhano, irmã de Da. Belinha, pelos sobrinhos netos.
[7] Parque Municipal, flanqueado pela A. Afonso Pena.
[8]Eduardo Schmidt Monteiro de Castro, engenheiro.
[9] Naná é o apelido de Maria Silvia.
[10] Dreno da represa.
[11] Pinguela: tronco ou prancha que serve de ponte sobre um rio.
[12] Radio de galena: aparelho rudimentar de rádio no qual se usa o cristal de galena ou sulfeto de chumbo.
Muitas revoluções
Na entrada do tribunal, um longo corredor com muitos soldados armados de metralhadoras. Depois de uma longa espera, a sessão começou. Eu não conseguia prestar atenção no discurso inflamado do promotor ainda que o acusado fosse eu mesmo.
Não sei por que, sempre que me lembro daquele dia em que estive sentado no banco dos réus do Tribunal de Justiça Militar, em Juiz de Fora, vem-me à memória um episódio semelhante do livro “O Estrangeiro” de Albert Camus. Meursault, o personagem principal, estava atento a tudo o que se dizia a seu respeito no tribunal e conta os fatos nos seus mínimos detalhes. Ele era acusado de ter matado um homem – e de fato matou – podendo ser condenado à morte. No meu caso não houve menção a assassinato, mas a penalidade era de 30 anos de cadeia pelos crimes de terrorismo, assalto a instalações militares, destruição de linhas de transmissão de eletricidade e outros do mesmo nível. E isso não se faria, evidentemente, sem a morte não de uma, mas de muitas pessoas. Isto é, se tudo de que me acusavam e a meus companheiros fosse verdade. Como nada daquilo tinha acontecido, as palavras raivosas do promotor me soavam como peças de ficção e não mereciam crédito. Naquela hora, no entanto, nem me passava pela cabeça que o juiz poderia não pensar como eu.
Quando recebi a notificação para comparecer ao Tribunal, comentei o fato com amigos e eles sugeriram que eu fosse para o exterior e lá ficasse como refugiado político, como muitos tinham feito. A ideia não me agradava, mas não chegava a ser absurda, pois em nenhuma hipótese eu queria ser preso novamente. Meu advogado, na época um iniciante em causas criminais na Justiça Militar, pensava o contrário. Ao menos daquela vez eu deveria me apresentar porque se tratava apenas de uma sessão de qualificação, ou seja, de identificar a mim e a meus companheiros e associar-nos à acusação. Com a ajuda de meu pai que, apesar de discordar terminantemente de minhas ideias políticas sempre me apoiou, decidi ficar e me apresentar ao tribunal. Mas, as coisas não se passaram como meu advogado previu. Na sessão, além da qualificação, o promotor pediu a prisão preventiva de alguns dos acusados, entre eles eu.
Se até então eu estivera quase alheio ao que se passava, naquele momento o medo de voltar para a prisão ressurgiu e passei a prestar atenção em tudo o que se discutia à minha volta. A sessão durou quase três horas e, por fim, para meu alivio, o Juiz negou o pedido de prisão preventiva, acatando os argumentos de nosso advogado. O processo continuaria, mas poderíamos ficar em liberdade. Retornei a Belo Horizonte com a decisão de jamais voltar àquele lugar.
Era setembro de 1964, eu estava noivo, desempregado e precisava terminar o curso de sociologia na Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. Além do IPM[1] que me levara ao Tribunal de Juiz de Fora, eu estava incluído no IPM dos professores universitários por conta de aulas que dera, como professor substituto, na Escola de Serviço Social. Este IPM me obrigava a interrogatórios semanais na 4ª. Região Militar do Exército. Minha ficha no DOPS[2] registrava atividades subversivas no movimento estudantil e no Sindicato dos Bancários (trabalhei de 1961 a 1964 no Banco da Lavoura de Minas Gerais) como membro da JEC, da JUC e da Ação Popular[3] em articulação com o Partido Comunista. Ou seja, um completo ficha suja, sem qualquer perspectiva, num momento em que eu, jovem, me preparava para entrar na vida profissional.
Alguns meses antes, bem cedo, na manhã dia 1º de abril, eu conversava com meu pai, na varanda de nossa casa da Rua Padre Rolim sobre o golpe militar que derrubara o governo João Goulart no dia anterior, quando um caminhão do Exército se aproximou e dele desceram vários soldados armados com metralhadoras, em posição de combate. Um homem em trajes civis e armado com um revolver logo se destacou da tropa e, ainda da rua, gritou que eu estava preso e deveria acompanhá-los. Meio atordoado com toda aquela encenação, eu disse que estava de pijama e precisava trocar de roupa. O homem e dois soldados armados entraram na casa e, no meu quarto, enquanto eu me trocava, um deles revistou a prateleira de livros. Saí e disse até logo para o meu pai. Colocaram-me na boleia do caminhão entre dois soldados e, em silêncio total, me levaram para o DOPS. Lá me fizeram descer uma longa escada em semiescuridão, rolando pelos degraus, à força de socos e coronhadas. Lembro-me apenas que não senti medo, mas fui dominado por uma forte sensação de revolta que anestesiava a dor dos golpes. Fui colocado numa cela onde já estavam – me pareceu na época – um amontoado de pessoas, algumas já conhecidas, outras não. Quando acostumei os olhos à escuridão do ambiente, vi que alguns companheiros de prisão, deitados no chão, estavam ensanguentados.
Apaguei da memória muitos detalhes daqueles dias e noites de medo e revolta. Alguma coisa revive agora quando a idade ativa a memória remota. As noites eram particularmente angustiantes: os guardas simulavam execuções no pátio que circundava as celas e não era visível devido à falta de janelas. Nesses momentos eu me perguntava quando seria a minha vez e o medo se unia ao desconforto do chão frio, transformando a insônia num pesadelo. De dia, as idas e vindas dos companheiros interrogados e torturados deixavam manchas de sangue no chão e angústia nas almas: quem será o próximo? A tortura psicológica e o medo da morte suplantavam o sofrimento físico; talvez por isso a memória não tenha registrado a precariedade da comida, das condições para a higiene pessoal, da falta de colchões e a superlotação da cela. Mas esses problemas certamente existiram.
Depois de dez dias sem contato com o mundo exterior, recebi a visita de meu pai que, depois de muita insistência, conseguira uma autorização de um dos líderes da revolução, vizinho e conhecido de minha família. Só mais tarde eu soube do fato hilário que aconteceu na sala de recepção do DOPS. Meu pai era parecidíssimo com o Marechal Castelo Branco, um dos membros do triunvirato que governava o país, e foi recebido com continências pelos soldados de plantão. Desfeito o engano, deixaram-me falar com ele em pé, na presença de vigias armados. Aproveitando-me da distração dos soldados, pedi ao meu pai que queimasse todos os meus livros e documentos, já antevendo que eles poderiam me incriminar. Isso foi feito numa bela fogueira anti-subversiva no quintal de minha casa.
No dia 13/04/1964 às 16h30 fui posto em liberdade. No dia seguinte apresentei-me ao departamento onde trabalhava no Banco da Lavoura, recebendo a informação que eu havia sido demitido. Em todos os lugares os rádios tocavam o sucesso do momento: Dominique, com a cantora paulista Giane[4].
Minha iniciação política, ali pelos quatorze ou quinze anos, foi marcada pela influência do integralismo [5], naquela época uma ideologia já nos seus estertores (assim como a influência do seu líder principal, Plinio Salgado[6]), mas ainda em vigor entre alguns Irmãos Maristas, do colégio em que estudei. Lá me candidatei à cadeira de Monteiro Lobato na academia estudantil de letras, atraído pelas tendências nacionalistas do escritor. Pesaram também as indicações de leitura de um general reformado, figura interessantíssima de minhas relações familiares, centradas em autores e políticos como Gustavo Barroso[7] e Juarez Távora[8]. Por sua influência, frequentei por algum tempo as palestras no Centro Lúcio dos Santos[9].
Mais ou menos na mesma época, fui convidado e aceitei participar de uma entidade estudantil, criada por inspiração dos diretores dos colégios católicos para combater os comunistas que, segundo eles, controlavam a União Municipal dos Estudantes Secundaristas.
Nas reuniões de política estudantil fiquei conhecendo militantes de outra entidade católica que me pareceu bem mais interessante e aberta aos problemas da época, a JEC – Juventude Estudantil Católica[10], orientada pelos freis dominicanos. Em pouco tempo, não só me associei, como me tornei um dos seus dirigentes até o fim do período colegial. Foi a porta para uma guinada à esquerda e um novo estilo de participação na política estudantil.
Mais do que a iniciação política, o período de JEC proporcionou uma intensa vivência religiosa (de que me afastei mais tarde) e a ampliação de meus horizontes culturais, seguindo a trilha dos frades dominicanos. Escritores e filósofos como Jacques Maritain, Emmanuel Mounier, Georges Bernanos, Charles Peguy, Tristão de Ataide, Teilhard de Chardin e muitos outros entraram para o meu repertório de leitura, embora nem sempre bem assimilados. Foi também um período de convivência com a cultura cinematográfica da época – principalmente francesa e italiana – nos cineclubes da cidade e de contato com a obra de pintores, sobretudo os impressionistas franceses. A Livraria Duas Cidades, de propriedade dos freis dominicanos, era um centro de irradiação de primeira ordem, local de muitas ideias e referências e de poucas compras para um jovem estudante duro.
Com a entrada na universidade, era suposta uma transição tranquila da JEC para a JUC – Juventude Universitária Católica. Não foi o que aconteceu comigo. Minhas ideias políticas estavam se transformando e não se ajustavam ao enquadramento da Ação Católica, ela própria já em conflito com a hierarquia oficial da Igreja. Crescia sobre mim e em muitos de meus amigos a sombra da revolução social, ainda que em moldes diferentes do modelo marxista. Assim, a inserção seguinte foi na AP – Ação Popular, organização que ajudei a fundar em Belo Horizonte.
No início, as atividades na AP eram, sobretudo, reuniões de estudo e de estratégia política, quase nenhuma prática. Eu participava também da administração do jornal da entidade que, por razões financeiras, teve vida curta. De vez em quando viajava ao Rio de Janeiro e São Paulo para reuniões políticas. Uma dessas viagens foi para o encontro de um pequeno grupo da UNE com o presidente João Goulart no Palácio das Laranjeiras. Não me lembro do assunto, mas, provavelmente, era algo ligado às reformas de base, tema em grande destaque naquela época. No entanto, lembro muito bem que o presidente atrasou e, passada a hora do almoço, estávamos famintos. A solução foi assaltar a mangueira que avançava pelo imenso terraço da sala de audiências e ali mesmo devorar as mangas federais.
Em Belo Horizonte, minhas práticas políticas estavam vinculadas ao diretório acadêmico da Faculdade de Ciências Econômicas e ao Sindicato dos Bancários. Eram principalmente conferências, congressos, passeatas e outras manifestações de rua. Em 25 de fevereiro de 1964 Leonel Brizola pretendia realizar um comício em Belo Horizonte em defesa das reformas de base. Seria no antigo prédio da Secretaria da Saúde em frente ao Mercado Municipal. No inicio da noite, fomos, eu e um grupo de bancários, carregando faixas e cartazes, para o local do comício. Tudo parecia tranquilo, pois o Governador de Minas – Magalhães Pinto – prometera apoiar o evento. Mas não cumpriu a palavra e mandou a polícia militar cercar e cair de paulada em cima dos manifestantes. Simultaneamente, militantes da TFP-Tradição, Família e Propriedade[11], entrincheirados ao lado da Secretaria, começaram a lançar enormes blocos de pedra sobre os grupos que chegavam. Uma dessas pedras me atingiu na cabeça, desmaiei e cai no chão. Quando acordei, poucos minutos depois, estava na carroceria de uma caminhonete da polícia, último lugar onde eu deveria estar. Com um enorme corte na cabeça e todo ensanguentado, rolei para fora do veículo e acordei no Pronto Socorro, suponho que levado por amigos. Depois de vários pontos no ferimento e revoltado com toda a situação, tentei voltar para o campo de batalha e não consegui tal era a minha fraqueza. No dia seguinte, o Jornal do Brasil estampou minha foto na primeira página com anotações que devem ter ido direto para os arquivos do DOPS.
Foram muitos os eventos desse tipo. No afã revolucionário, eu me considerava forte e corpulento para enfrentar os embates, exatamente o oposto da realidade. Difícil mesmo era chegar em casa estropiado e ainda levar uma bronca da minha mãe. Para evitar isso, eu sempre entrava péantepé, eliminava os vestígios do dia no tanque de lavar roupas e me recolhia, silenciosamente, ao meu quarto. Às vezes não dava. Numa das greves fui escalado para fazer piquete na porta do Banco da Lavoura de Minas Gerais que era propriedade do meu tio, Vicente Araújo. Logo meus pais ficaram sabendo pelo telefone. Além do mais, cheguei em casa sem a minha meia de nylon, inteiramente corroída pelo gás lacrimogêneo lançado pela polícia militar para dispersar os grevistas.
Neste clima de radicalismo político e de crise econômica[12], fui preso e processado em 1964. Logo depois que me formei, no final deste ano, recebi um convite para lecionar na UnB -Universidade de Brasília. Fiquei eufórico com a possibilidade de iniciar uma carreira acadêmica e parti para a recém- fundada Capital do país, sem imaginar o que me esperava ali.
Os primeiros meses da nova vida foram ótimos e deles tenho, até hoje, uma lembrança agradável. Fui alocado no Departamento de Sociologia e convivi com grandes personalidades de várias áreas de conhecimento num clima informal e criativo que jamais imaginava existir numa instituição universitária. Mas logo fui envolvido numa nova tempestade política. A Universidade foi ocupada pelas Forças Armadas e o cerne da crise era um dos professores do meu departamento. Depois de semanas de muita tensão, 130 professores pediram demissão e eu entre eles.
Sem qualquer perspectiva profissional na cidade, fui tentar um emprego em São Paulo. Lá fiquei uns seis meses hospedado na casa de meu irmão em Santo André, cumprindo a rotina de, aos domingos, selecionar ofertas de emprego nos classificados do Estadão e, durante a semana, visitar as empresas que precisavam de alguém com o meu perfil (será que alguma precisava?). Depois de dezenas de tentativas, consegui ser admitido numa indústria de autopeças como chefe de pesquisas e desenvolvimento de vendas (sic). A nova rotina era acordar às quatro horas da manhã, tomar um ônibus perto de casa quando ainda estava escuro, seguir até a estação de Santo André, viajar por uma hora num trem lotado até o centro de São Paulo, tomar outro ônibus e bater o ponto na portaria da empresa às 7 horas; trabalhar o dia todo, almoçar no refeitório da fábrica e, no fim do dia, fazer o trajeto oposto. Sobrevivi por algum tempo até alugar um apartamento mais próximo da fábrica. Minha primeira missão no novo emprego foi demitir cinco funcionários da seção, à minha escolha. Duro golpe nos meus ideais revolucionários.
E assim começou a minha vida de paulistano, que durou 25 anos, nesta cidade onde nasceram meus três filhos. Nenhuma revolução em vista, apenas mudanças suaves no plano pessoal. Era o que eu pensava, mas novos caminhos me esperavam. Por indicação de um amigo, mudei de emprego e fui parar numa empresa de consultoria para trabalhar em planejamento urbano. Meu chefe era um senhor muito simpático, de cabelos grisalhos, na faixa dos 55 anos, que logo fiquei sabendo ser Diógenes Arruda, o principal dirigente do Partido Comunista Brasileiro depois de Luiz Carlos Prestes por mais de trinta anos. Meus dois colegas de trabalho eram Sergio Vieira da Cunha, da Ação Popular em São Paulo, que muito mais tarde veio a ser ministro do governo Fernando Henrique Cardoso, e Kalil Chade, ex-secretário do Partido Comunista em São Paulo. Havia duas outras empresas coligadas, uma na área de urbanismo e outra na área de administração pública. Seus dirigentes e principais quadros eram também do Partido Comunista em diversos estados que, perseguidos pelas forças de segurança, vieram se esconder em São Paulo (sim, isso era possível na época). Em síntese, meus sonhos de uma vida despreocupada logo se esvaíram. Embora eu não assumisse qualquer militância política, não podia me esquivar dos pedidos para abrigar perseguidos políticos e gente da guerrilha em minha casa por várias semanas, sem nem ao menos poder perguntar pelo nome dos hóspedes.
Imigrantes em São Paulo, eu e minha esposa, Maria Amália, tínhamos como opções de relacionamento pessoal os antigos amigos da JEC e da Ação Popular que haviam se mudado para a cidade. Entre eles estavam alguns freis dominicanos que foram alvos de violenta repressão por suas relações com o líder guerrilheiro Carlos Marighela.
Neste período passei incólume, apesar da forte tensão provocada pela repressão policial que se infiltrava na vida das pessoas e em todas as esferas da sociedade. Muitos fatos aconteceram ao longo dos últimos quarenta anos, vários relacionados com ideologia e política. Mas aqui não é o lugar para lembrá-los.
Não posso terminar este relato sem voltar um pouco a Diógenes Arruda, essa figura querida, anacrônica, autoritária, mas cheia de sentimentos humanos e ideais sociais. Ele dedicou 33 anos de sua vida à construção do PCB e depois mais alguns ao novo partido que ajudou a criar, o PC do B. Era muito respeitado nos países socialistas e conheceu figuras como Mao Tse-tung e Stalin, sobre as quais contava mil histórias. Com exceção de um curto período como deputado federal, nunca havia trabalhado fora das estruturas partidárias quando o conheci. Isso explica porque esta figura que correu o mundo não sabia preencher cheques e para isso sempre vinha me pedir ajuda bastante constrangido.
Arruda e sua esposa, a pintora pernambucana Tereza Costa Rego, me tratavam como um filho ou neto, sei lá o que. Quase nunca conversávamos sobre política quando os visitava no seu pequeno apartamento, atulhado de diários oficiais, livros e revistas.
Em 1968, quando nasceu meu filho Guilherme, meu salário estava atrasado e eu não podia tirar minha esposa e o recém-nascido do hospital sem dinheiro para pagar a conta. Reclamei com o Arruda e ele, incontinenti, saiu comigo atrás de vários devedores da empresa a exigir os pagamentos e explicando porque era importante receber. Resolvemos o problema imediato, mas não os futuros atrasos. Pouco depois ele foi preso, torturado e, solto em 1972 quase à beira da morte, exilou-se no Chile e depois na França. Em 1978 eu o encontrei em Paris: Arruda, aquele guerreiro destemido, chorou como uma criança ao me ver. Nunca aprendeu a língua, não se adaptava aos costumes e sonhava com um retorno ao Brasil o que só aconteceu um ano depois.
Morreu em 1979, após a sua volta ao Brasil.
[1] Inquérito Policial Militar.
[2] DOPS – Departamento de Ordem Política e Social
[3] JEC – Juventude Estudantil Católica e JUC – Juventude Universitária Católica. AP – Ação Popular. Ver outras menções a essas organizações no restante do texto.
[4] Música de autoria da freira JeanineDeckers, cantada por ela mesma e também por Rita Pavone, que fez um enorme sucesso nos anos 1960.
[5] Integralismo: doutrina política inspirada nos movimentos de massa europeus do inicio do século XX, notadamente o fascismo italiano. Valorizava a propriedade privada, o resgate da cultura nacional, o nacionalismo e liberalismo econômico, a prática cristã, o princípio da autoridade. Algumas vertentes do movimento apoiavam o antissemitismo.
[6] Plinio Salgado (1895-1975), político, escritor e jornalista que liderou a Ação Integralista Brasileira.
[7] Gustavo Barroso (1888-1959): advogado e escritor, foi um dos líderes da Ação Integralista Brasileira e um de seus mais destacados ideólogos.
[8] Juarez Távora (1898-1975): militar e político, participou do movimento tenentista em 1922 e da Coluna Prestes. Defendia a participação do capital estrangeiro na exploração do petróleo e era contra a criação da Petrobrás.
[9] Centro Lúcio dos Santos: centro de estudos em Belo Horizonte que se dizia ter relações com grupos integralistas.
[10] Organização pertencente à Ação Católica, assim como a JUC – Juventude Universitária Católica.
[11] Organização de inspiração católica tradicionalista fundada em 1960 pelo escritor, jornalista e político Plinio Corrêa de Oliveira. Combatia as ideias maçônicas, socialistas e comunistas e alinhava-se com a defesa da monarquia como sistema de governo para o Brasil.
[12] Para entender o ambiente da época, ver: José Murilo de Carvalho – “Fortuna e virtú no golpe de 1964”, Revista de Estudos Avançados, No. 28, pag. 80, 2014.
Museus de arte e natureza
Visitei muitos museus de arte em diversos países, o que me rendeu mais cansaço do que prazer. De vários eu só me lembro do nome (alguns nem disso) e de um ou outro objeto exposto. Há alguns anos parei de ir aos louvres e prados, os grandes museus, por mais que reconheça a importância e riqueza de seu acervo.
Outro tipo de museu me encanta e muito. São os que colocam a arte em estreito contato com a natureza. De imediato, lembro-me de cinco: o Kröeller-Müller, na Holanda, o FriederBurda, em Baden-Baden (Alemanha) e o CalousteGulbenkian, em Lisboa. Os outros dois estão no Brasil: o Inhotim, em Brumadinho (MG) e a Fundação Maria Luiza e Oscar Americano, em São Paulo. Eles têm em comum o fato de estarem localizados dentro de jardins ou parques lindíssimos e terem arquitetura primorosa, quase sempre moderna. Exceto o Gulbenkian e a Fundação Oscar Americano, todos estão situados fora de grandes cidades. São lugares de prazer e encantamento, alguns com ótimas programações artísticas e exposições temporárias. Valem uma viagem só para estar no seu ambiente.
Museu Kröeller-Müller
O Museu Kröeller-Müller é uma experiência estética e sensorial fantástica. Fica na Holanda (Província de Gelderland), dentro do Parque Nacional HogeVeluwe, e é todo dedicado à arte moderna. Seu acervo é constituído por obras adquiridas entre o final do século XIX e início do século XX pela esposa de um industrial holandês que, em 1935, doou a coleção para o Estado.
O ponto alto do acervo é a coleção de 278 pinturas e desenhos de Van Gogh, que me fizeram redescobrir o artista. Por muito tempo eu vi a obra de Van Gogh apenas como uma expressão dos desequilíbrios psíquicos que o atingiram no final da vida. A coleção Kröeller-Müller me mostrou Van Gogh como um artista completo, genial pela sua criatividade, capacidade de expressão e excelência técnica.
A coleção de pontilistas franceses (Seurat, Signac e outros), embora pequena, é simplesmente maravilhosa e nos leva às origens da imagem digital. Na área externa do moderno prédio, o imenso jardim é dedicado a esculturas de artistas contemporâneos.
A visita se completa com a culinária requintada do restaurante e um passeio de bicicleta pelas florestas do parque. Tudo num ambiente tranquilo, sem filas nem atropelos.
Museu Frieder Burda
Baden-Baden é uma bela cidade, muito conhecida por suas águas termais, situada no sudoeste da Alemanha. O Museu FriederBurda fica no Parque LichtentalerAllee que se estende ao longo do Rio Oos, margeando a cidade antiga. Sua arquitetura é moderna e o prédio funciona como um prolongamento do jardim do entorno, com grandes janelas e paredes de vidro, e se integra harmoniosamente ao vizinho Museu de Artes de Baden-Baden, de estilo neoclássico. O projeto, de 2004, é do arquiteto americano Richard Meier.
Reunido pelo empresário FriederBurda, o acervo permanente é composto por mais de 1000 pinturas, esculturas e objetos, todosrepresentativos da arte nos séculos XX e XXI. Destacam-se as obras de pintores expressionistas alemães (Beckman, Kirdiner etc.) e de expoentes do expressionismo abstrato americano como Kooning, Pollock, Rothko e outros. Nele estão também presentes várias obras de Picasso.
Ao percorrer as salas, rampas e corredores, o visitante aprecia tanto as obras de arte, quanto as paisagens do jardim através das enormes paredes de vidro. É uma experiência fantástica.
Museu Gulbenkian
A maioria dos meus amigos que visita Lisboa se contenta em apreciar – não sem razão – a Baixa/Rossio, o Chiado, o Bairro Alto e outras áreas e atrativos do centro histórico, além dos bairros de Belém e Ajuda, onde ficam a Torre de Belém e o Mosteiro dos Jerônimos. São poucos os que se dirigem ao maravilhoso Museu Gulbenkian, localizado perto do centro, junto ao Parque Eduardo VII. E, no entanto, é aí um dos lugares mais agradáveis de Lisboa. A começar pelo parque em que se situa o Museu, com seu paisagismo requintado e recantos paradisíacos.
Transcrevo de um Guia de Lisboa: “Próspero homem de negócios e um grande amante das artes, CalousteGulbenkian adquiriu em Lisboa (entre 1942 e 1955) mais de 6.000 obras de arte (…) egípcia, assíria, grega, asiática e islâmica, além de objetos de arte decorativa e pinturas europeias da Idade Média até o século 19.”
A coleção é fantástica, não só pelos objetos em si, mas também pela funcionalidade e beleza arquitetônica do espaço que ocupa. A seção com peças de René Lalique, joalheiro e decorador art nouveau, é imperdível.
A Fundação Gulbenkian oferece também concertos clássicos, balé, jazz e música contemporânea ao ar livre no ambiente bucólico do parque.
Inhotim
Um belíssimo parque, junto à cidade de Brumadinho (60 quilômetros de Belo Horizonte) que abriga talvez a maior coleção de arte contemporânea do Brasil. O acervo permanente é exposto em vários pavilhões e ao ar livre. O parque, hoje administrado por uma ONG, foi iniciativa do minerador Bernardo Paz que está sempre por lá recebendo as visitas. Quem não se interessa pelas obras dos muitos artistas brasileiros e estrangeiros, pode se deliciar com os belos jardins e lagos e com o finíssimo buffet do Restaurante Tamboril .
Para mim, as obras mais bonitas são as de Adriana Varejão (o pavilhão e o painel “Celacanto provoca maremoto”), de Cildo Meireles (“Desvio para o vermelho”), o mural externo de John Ahearn e Rigberto Torres (“Abre a Porta”) e o pavilhão espelhado de Valeska Soares (“Folly”).
Há dois caminhos paraInhotim partindo de Belo Horizonte: um pela serra, com paisagens que dizem ser muito bonitas, e outro com estrada boa, mas movimentada, mostrando a paisagem horrorosa e poluída da cidade industrial de Contagem. Sempre fui por este último porque não conheço o primeiro trajeto. Brumadinho nada tem de interessante, muito pelo contrário, é uma cidade feia e sem atrativos. Inhotim compensa amplamente as agruras urbanas e dos caminhos.
Dizem que nos fins de semana está muito cheio, mas é quando acontecem os shows e concertos. Eu prefiro a tranquilidade dos dias úteis, fora do período de férias.
Museu Luiza e Oscar Americano
Desde os tempos em que trabalhei no Palácio dos Bandeirantes e, nas pouquíssimas horas de folga, passeava nos jardins da Fundação Luiza e Oscar Americano, que fica bem em frente, considero este um dos espaços mais bonitos e agradáveis de São Paulo.
Projetada pelo arquiteto Oswaldo Arthur Bratke em 1950, a casa moderna de incrível leveza arquitetônica é cercada de jardins e matas onde, em poucos minutos de caminhada, a gente se esquece da turbulenta megalópole e entra no mundo da tranquilidade. A casa abriga o acervo de arte brasileira adquirido pelo empresário Oscar Americano de Caldas Filho (proprietário da CBPO, empresa especializada em obras de engenharia; falecido em 1974). São pinturas do século XVII, mobiliário, prataria, porcelanas, tapeçarias e arte sacra do século XVIII, além de pinturas de artistas brasileiros do século XX, com destaque para Victor Brecheret, Lasar Segall, Guignard, Di Cavalcanti e Portinari.
Num auditório anexo à casa são realizados concertos, recitais, conferências e cursos sobre história da arte, literatura e música. Um requinte completado pela casa de chá que dá vista para o jardim.
Uma morte sem atropelos
Dos Anjos veio a Brasília para se encontrar com a neta. Nem bem chegou, já está com saudade dos bichinhos. Bichinhos são as galinhas do seu quintal, uma delas com nove pintinhos, que ficaram aos cuidados de uma vizinha. Todo dia de manhã eles esperam pela comida na porta da cozinha e à tarde Dos Anjos joga água com a mangueira para refrescá-los, o galo fica muito feliz e abana as asas.
Dos Anjos tem 68 anos e mora numa pequena cidade do interior do Piauí. Pela carteira de identidade tem 71 anos, mas esta não é a sua idade real. Seu pai falsificou a data de nascimento no cartório para que ela pudesse casar mais cedo, ainda menor.
Há mais de vinte anos, Dos Anjos paga mensalmente os custos de seu funeral, que de vez em quando são reajustados. Atualmente a prestação está em vinte e cinco reais. Pelo contrato, a funerária vai providenciar tudinho, desde o túmulo até o cafezinho que será servido aos parentes e amigos que vierem para o velório. O serviço é completo: transporte, flores, velas, mortalha, auxílio para o padre e tudo mais. Muito importante é o caixão, que precisa ser resistente, de madeira grossa, e bem bonito.
Ela não confia inteiramente na funerária. Para se prevenir, costurou ela mesma a sua mortalha, toda em azul e branco, como a dos anjos. Está bem guardada em casa e, de vez em quando, é lavada e passada cuidadosamente para não manchar com o tempo. Apesar disso, ela teme que a funerária use a mortalha deles, bem feia, toda preta.
O motivo de tanta precaução é simples. Dos Anjos receia que, por falta de recursos, os parentes não deem a ela um enterro digno e comprem um desses caixões fininhos que se vê por ai.
Alguém pergunta: – e se a funerária falir antes do seu falecimento? Dos Anjos não acredita nisso. Faz pouco tempo, ela foi ao enterro de uma amiga, organizado pela mesma funerária, e estava tudo direitinho, conforme o combinado, até o cafezinho com açúcar. Cachaça eles não deram, mas isso não estava no contrato.
Dos Anjos espera tranquila pela morte, sem improvisos nem atropelos.
- « Previous Page
- 1
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Next Page »